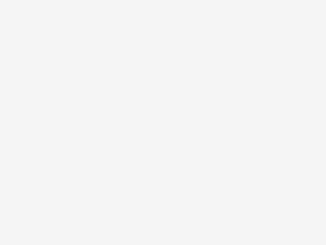As questões ligadas à saúde da população em situação de rua são muito mais complexas do que é possível ver nas praças e calçadas dos centros urbanos. Para começar, estas pessoas vivem em condição de vulnerabilidade, reforçada pela desigualdade de acesso aos direitos fundamentais e pelo estigma que acompanha sua condição — o que as afasta das condutas saudáveis e também dificulta seu acesso aos bens, programas e serviços de saúde. “O reconhecimento dessas pessoas como cidadãos de direitos é recente e ainda não é acolhido na sociedade”, adverte o texto da cartilha Saúde da População em Situação de Rua: um direito humano, lançada em 2015 pelo Ministério da Saúde. O material educativo, destinado a sensibilizar gestores e profissionais de saúde, reforça que até 2009, ano em que foi aprovada Política Nacional para a População em Situação de Rua, as ações do Estado e da sociedade civil destinadas a este público se baseavam em uma ótica assistencialista e higienista, sem levar em consideração suas especificidades e a importância da participação social na efetivação dos direitos e da cidadania.
A política de 2009 caracteriza como população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular; são pessoas que utilizam logradouros públicos e também áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento — de forma temporária ou permanente — bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. A legislação determina ainda “assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas”, incluindo-se saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Estimativa de 2007, do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), revelou os principais motivos que levaram às ruas cerca de 50 mil pessoas no Brasil, quase de maneira igualitária, foram desavença familiar, uso de álcool e outras drogas, além de desemprego.
Cuidado na rua
Como encarar o desafio de oferecer saúde para uma população com tamanha vulnerabilidade e inúmeras especificidades? Em nota enviada à Radis, o Ministério da Saúde informou que, apesar de não haver restrição no atendimento dessas pessoas em qualquer unidade ou serviço do SUS, a principal oferta de cuidado integral para quem está nesta situação são as 148 equipes de Consultório na Rua (CnaR), cujo processo de trabalho é organizado para acolher e orientar o acesso e o cuidado a estas pessoas a partir de suas necessidades e os equipamentos existentes no território.
O psicólogo e sanitarista Marcelo Pedra, do Departamento de Assistência Básica (DAB/MS), esclareceu à reportagem que a política trata não somente daqueles que moram na rua, mas também “de quem faz da rua seu lugar de produção de vida”. Ele informou que os CnaR, instituídos em 2011, resultam da fusão de duas experiências anteriores: as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) que atendiam a população sem domicílio em cidades como Belo Horizonte e Porto Alegre, e os Consultórios na Rua, extensões de programas de saúde mental cujo objetivo era prioritariamente vincular usuários à rede de serviços. Hoje, os CnaR são equipes multiprofissionais, compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, dentistas, educadores físicos, além de técnicos de enfermagem e de saúde bucal e agentes sociais, divididos a partir de três modalidades de implementação.
“São equipes que prestam assistência direta ao usuário, assim como qualquer outra equipe de Saúde da Família”, explicou Marcelo, avaliando que o campo de atuação, por ser novo, exige dos profissionais uma reflexão maior sobre suas práticas. Ele colocou que a dupla origem dos CnaR pode trazer alguns vieses: algumas equipes, muito ligadas à lógica da saúde mental, podem privilegiar a produção psíquica do sujeito e negligenciar a atenção para problemas como hipertensão arterial — recorrente em uma população que é, na sua maioria, negra (mais propensa ao problema) e usuária de álcool, dois fatores que agravam a situação; por outro lado, pode haver outras, mais ligadas à tradição biomédica de extirpação de sintomas, que podem minimizar a importância do contexto da população com quem trabalha. Marcelo avaliou esta tensão como positiva, já que induz os profissionais a qualificarem suas práticas. Ele reforçou a ideia que o objetivo da estratégia é garantir resolutividade, algo que vai além do fato de vincular o sujeito aos serviços: “Vínculo não é objetivo final; vínculo é instrumento do cuidado”, problematizou.
Redução de danos
A preocupação do DAB está baseada em relatórios enviados pelas equipes ao Sistema de Apoio a Pesquisa e Estatística (Siapes) entre 2002 e 2015, cujos números revelam um grande número de encaminhamentos para outras unidades e/ou equipes da Atenção Básica. O desafio, aponta Marcelo, é melhorar a resolutividade. “O processo de trabalho do Consultório na Rua não está pautado pela resolutividade, mas pela articulação de acesso à rede”, explicou, lembrando que, estando numa equipe de CnaR, enfermeiro tem que realizar exame Papanicolau, médico fazer manejo de HIV e psicólogo estar preparado para lidar com usuário de álcool e outras drogas no próprio território, e não somente encaminhar estes problemas para outras unidades. Sobre a política de redução de danos, prevalente na condução dos trabalhos das equipes de CnaR, Marcelo alertou que a redução é apenas uma diretriz que orienta a relação que deve ser estabelecida entre profissional, usuário e território, mas que não deve ser encarada como “estratégia instrumental de substituição”.
Integrante de uma equipe de Consultório na Rua que atua no bairro de Brotas, em Salvador, o médico de família e de comunidade Fernando Meira é um defensor da redução de danos: “Somos ensinados que o saber clínico é superior, mas saber importante é aquele adequado à realidade e às condições do território”, disse à Radis, durante o 1º Encontro Nacional de Consultórios na Rua e de Rua, que aconteceu em abril, no Rio de Janeiro. Para ele, reduzir o problema de uma pessoa em situação de rua a estar doente ou não estar doente é limitar o cuidado. “Estratégias baseadas exclusivamente em indicadores esquecem a subjetividade”, advertiu, lembrando que a ação do CnaR não pode se pautar apenas nas metas de produtividade estabelecidas por indicadores, mas sim nas necessidades apresentadas pelos usuários e na vinculação que se estabelece com eles. “Números descontextualizados podem esconder a subjetividade dos sujeitos e homogeneizá-los dentro do território. Não podem ser metas a serem executadas independentes da subjetividade”, recomendou.
Para o médico, é preciso também rever a hierarquia existente nas equipes, de modo que saberes e poderes de profissionais, técnicos e outros profissionais possam ser equivalentes. Além disso, advertiu Fernando, é preciso tomar cuidado para que valores morais de integrantes da equipe não guiem as ações de cuidado.
Autonomia e liberdade
Na pesquisa que resultou na tese de doutorado “Dando uma moral: Moralidades, prazeres e poderes no caminho da cura da tuberculose na população em situação de rua do município de São Paulo”, defendida no início de maio na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Usp), o jornalista Liandro Lindner também identificou um descompasso entre o que as pessoas em situação de rua e os profissionais que os atendem pensam sobre saúde, doença e cura. Por meio de entrevistas realizadas em CnaR da cidade e em um hospital de referência, em Campos do Jordão, ele identificou que enquanto o “padrão moralista” do profissional de saúde entende a cura como sinônimo de conclusão do tratamento e o retorno a uma vida “socialmente aceita” — que inclui mudanças de hábitos, inserção no mercado de trabalho formal e até o abandono das ruas —, o usuário somente deseja recuperar um padrão de saúde que o permita retornar a ter a vida de antes.
“O que eles desejam é recuperar o físico para ter acesso ao prazer e a liberdade de viver suas vidas como quiserem”, acentua o pesquisador. Ele acredita ser necessário fortalecer os CnaR, de modo que possam oferecer maior resolutividade (para além do encaminhamento para unidades de saúde) e repensar os critérios de longa internação. “As pessoas se sentem como se estivessem presas, vigiadas. Elas não abrem mão de sua liberdade”, diz Liandro, para quem é preciso ouvir das pessoas que estão nas ruas quais são suas estratégias para promover sua saúde.
Articulador de Consultórios na Rua no Rio de Janeiro, Daniel de Souza, arte-educador, está acostumado a promover esta comunicação entre as equipes e os usuários. Mobilizador da Associação Brasileira de Redução de Danos (Aborda Brasil) e organizador do encontro que houve no Rio, ele disse à reportagem que as pessoas em situação de rua constroem suas vidas a partir de uma outra lógica, da qual dependem muitas questões como segurança, subsistência e condições climáticas, diversas de quem tem um domicílio físico. Por conta de sua constante vulnerabilidade, são pessoas que não estão acostumadas a receber cuidado e demoram a estabelecer vínculos. “Agravos à saúde são a última coisa que pensam. Antes têm que saber como vão trabalhar, se vão comer, se vai chover, se vão sofrer violência”, destacou Daniel.
Neste sentido, criticou a formalidade do uso do Cartão SUS em algumas unidades e a falta de compromisso de alguns profissionais que lá atuam com as pessoas em situação de rua, muitas vezes somente atendidas pelos profissionais de segurança dos serviços ou, no máximo, por atendentes das portarias. A população tem o direito de ser atendida onde estiver. Mesmo sem comprovante de residência, em um lugar próximo ao território onde vive”, reclamou. Também reivindicou um maior acompanhamento dos usuários que são encaminhados para unidades de saúde, muitas vezes somente assistidos quando presentes profissionais do CnaR. “Nosso desafio é intersetorial”, afirmou.
Intersetorialidade também é preocupação para a psicóloga Mirna Teixeira, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), que organizou, ao lado de Zilma Fonseca, o livro “Saberes e práticas na Atenção Primária à Saúde: cuidado à população em situação de rua e usuários de álcool, crack e outras drogas” (Editora Fiocruz). Para ela, a intersetorialidade é uma questão prioritária, que deve ser prevista pela gestão e não delegada ao trabalhador que está na ponta. Ela lembrou da política “De braços abertos”, da prefeitura de São Paulo (Radis 158), que une saúde, trabalho e renda, moradia esporte e lazer. [Também o Programa Institucional Álcool, Crack e outras Drogas (PACD), implementado pela Fiocruz, em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (senad), trabalha nesta perspectiva]. Mirna também considera importante garantir que o acesso à saúde para as pessoas em situação de rua continue previsto em política pública e investir na melhoria de indicadores, ainda não pactuados na Saúde.
A dificuldade de diálogo entre os setores também é preocupação do movimento social. Eduardo Cherulli, coordenador do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua (MNPR) em Goiás, acredita que a intersetorialidade pode melhorar a vida das pessoas “que vivem entre a técnica do hospital e a pena do abrigo”. Para ele, a saída é investir em acolhimento, postura ainda distante da realidade de muitos usuários e da formação de muitos profissionais. “Falta preparo para o atendimento destas pessoas”, reclamou, no evento que coordenou em Goiânia (veja matéria principal). Isso tanto acontece nos serviços e unidades de saúde como também nas ações de segurança pública, assegurou. “Essa discussão sobre intersetorialidade é antiga”, criticou Maria Lúcia de Souza, representante do movimento na Bahia. Ela propôs, durante o encontro, uma “escuta qualificada”, defendendo o direito à autonomia para promoção da saúde. “Eu levei 25 anos para voltar para o seio de minha família; não será uma consulta de uma hora que me dirá o que fazer”, definiu.